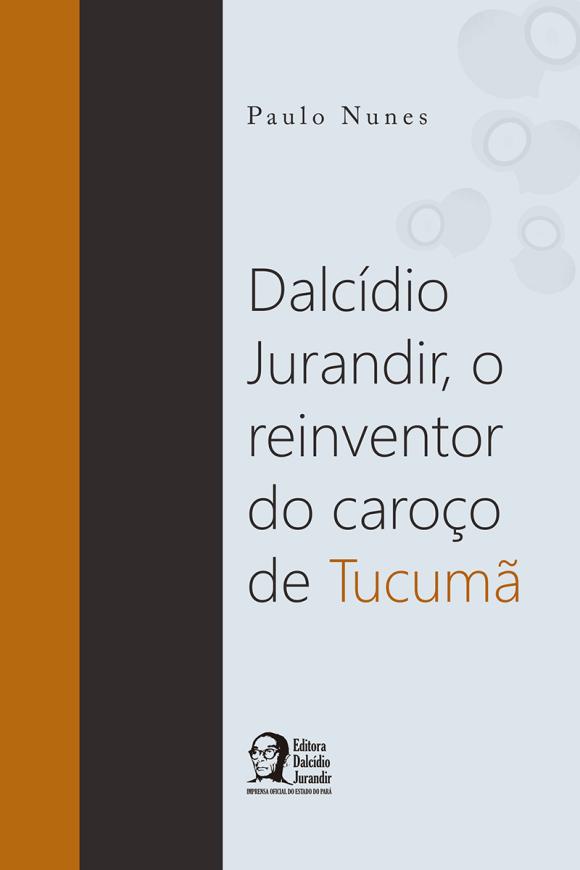Por Kil Abreu

O paraense Dalcídio Jurandir (1909-1979) ainda é um “importante desconhecido” no cenário da literatura brasileira. Admirado por autores como Milton Hatoum e, antes, por Jorge Amado – que viram nele altos valores literários e a expressão singular dos povos amazônicos -, o escritor ainda aguarda o reconhecimento ampliado – algo que seria justo, décadas depois de encerrada a sua saga romanesca, o “Ciclo do Extremo Norte” (dez romances).
Um dos guardiães mais proeminentes da obra é o poeta e educador Paulo Nunes*. Também paraense, Nunes é curador do acervo do autor e dedicou boa parte dos seus estudos à obra do marajoara. O interesse por Dalcídio vem desde a dissertação de mestrado, defendida em meados dos anos de 1990, quando embrenhou-se no belíssimo (e tristíssimo) “Chove nos campos de Cachoeira” (1941), o primeiro romance.
“Cachoeira” é referência à Cachoeira do Arari, um dos municípios da Ilha do Marajó. “Arari”, por sua vez, é nome de ave e também de um rio que atravessa o lugar. Vem do tupi, arara-i, ou “arara pequena”. Estes deslocamentos da toponímia, entre as águas abundantes e a miudeza-grandeza dos animais e gentes, são objeto da obra dalcidiana e funcionam também como chave teórica usada pelo pesquisador para abri-la. Por exemplo, quando cria o conceito de aquonarrativa, explicado como “uma poética das águas” que alcança a “elaboração de uma semântica amazônica”.
Esta é uma das discussões apresentadas em seu livro mais recente: “Dalcídio Jurandir, o reinventor do caroço de Tucumã” (Editora Dalcídio Jurandir – Imprensa Oficial do Estado do Pará, 2022). Tucumã, para quem não conhece, é o fruto do tucumanzeiro, palmeira abundante no Norte do país. O coquinho é abraçado por uma polpa laranja muito apreciada pelas populações de lá. O tucumã é personagem, de fato, na obra de Dalcídio, em narrativas que vão dos rios, campos e alagados da ilha aos subúrbios de Belém.
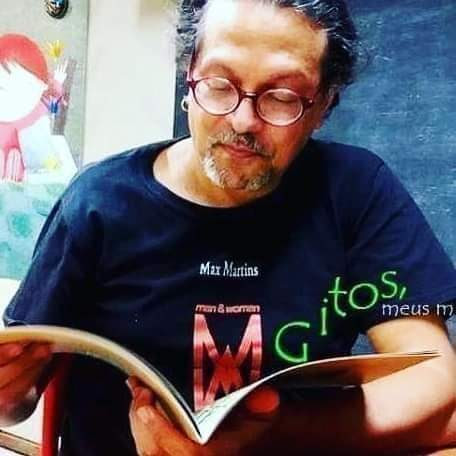
Nesta entrevista, CENA ABERTA repercutiu alguns dos temas do livro, perguntou sobre as estratégias para visibilizar a obra, sobre a possibilidade de uma literatura amazônica e, ainda, sobre o espetáculo Solo de Marajó, do grupo Usina, em cartaz em São Paulo. A montagem é inspirada no romance “Marajó” (1947).
CENA ABERTA – Para uma apresentação breve, o que é indispensável dizer ao leitor sobre Dalcídio Jurandir, sua obra e contexto?
PAULO NUNES – Dalcídio Jurandir é um humanista, um internacionalista; nasceu no arquipélago do Marajó e lá viveu até seus 10 anos de idade, quando migra para Belém. Jovem, segue para o Rio de Janeiro. Aprendeu, primeiro na vivência da Academia do Peixe Frito (os modernistas de Belém) e depois no Partido Comunista, que o povo humilde, a “criaturada dos pés no chão”, nunca deveria ser desprezado. Assim, escreve uma obra contextual que ele chamou de Ciclo do Extremo Norte: dez romances que revelam a Amazônia para o Brasil. São 50 anos de (boa) literatura. Para o leitor iniciante entender a saga de um migrante interiorano no romance de Dalcídio, dois livros são fundamentais: “Chove nos campos de Cachoeira” (vida e cotidiano marajoara) e Belém do Grão-Pará (um retrato da Amazônia urbana) – este talvez seja o livro de mais urgente leitura que o primeiro.
No livro você confronta, contrasta ou estende a obra de Dalcídio, a coloca em relação com outros autores. Por exemplo, ao fazer a justaposição a Graciliano Ramos, vê neste as possibilidades de uma ‘sedenarrativa’, e naquele, as de uma ‘aquonarrativa’ – conceito importante para a sua estratégia de leitura. Fale um pouco sobre isso e sobre como enxerga Dalcídio neste lugar, de um aquonarrador.
Diferentemente de alguns de meus colegas dalcidianos, eu identifico Dalcídio como um autor que se inicia modernista, um tardio representante da segunda geração do romance modernista brasileiro. Ele leva a fundo no romance (nem quero falar de seus poemas, textos jornalísticos ou cartas) a ideia de redescoberta dos Brasis contidos no Brasil: tirar da sombra o Brasil fundo como ele fez com seus romances marajoaras e com uma Belém até então inédita na geopoética do Brasil. A aquonarrativa é minha contribuição principal, chave de leitura aplicada em algumas universidades sobre autores amazônicos. A aquonarrativa foi sistematizada por Dalcídio com um discurso da poética das águas, da flexibilização das regras de pontuação gramatical, do uso de períodos longos e da elaboração de uma semântica amazônica, que se vai diluindo na medida em que Alfredo, o protagonista da maioria dos romances, chega a Belém, cidade dos paralelepípedos e dos trilhos do bonde e do trem, onde a água está mais escassa que no Marajó. Neste sentido, nada melhor do que percebermos a diferença com Graciliano, o grande mestre do romance: períodos curtos, semântica da seca, economia de discurso das personagens que são quase mudas. Eis que a aquonarrativa amazônica faz frente à sedenarrativa do sertão do Nordeste.
Há já uns anos você escreveu um artigo em que o título perguntava, desconfiado, sobre a existência da literatura paraense. Devolvemos agora a pergunta, em termos ampliados: a literatura amazônica existe? O que tu chamas de aquonarrativa em Dalcídio, ao retratar o que apontas como o “ethos amazônico”, não definiria também a marca formal, singular, de uma escrita local?
A questão é polêmica, de vez em quando sou um provocador, não tanto quanto um Glauber ou um Zé Celso, mas este texto referido foi feito mais para provocar que para responder… Eu não acredito que sejamos paraenses o suficiente para produzir uma literatura paraense (embora já tenha acreditado nisto); temos na Amazônia, até fins do séc. XX, características comuns no trato de representação das gentes, rios, florestas e depois as cidades. Não existe um Pará, existem Parás diversos; assim como o capitalismo, nestes 400 anos de invasão da região, aboliu a ideia de uma Amazônia. Há Amazônias, e a literatura brasileira de expressões amazônicas. O que posso dizer é que a literatura viçosa que produzimos hoje (na verdade, desde o sec. XX) faz falta para o Brasil. Por isto denuncio o rapto da Amazônia na literatura brasileira. Saiu um texto meu no último número da revista Brasileira, da Academia Brasileira de Letras, num dossiê sobre a Amazônia. Salvo exceções, a inteligência brasileira se retroalimenta do eixo São Paulo-Rio-Minas. Uma pena: Dalcídio Jurandir, Maria Lúcia Medeiros, Verenilde Pereira, Eneida, Violeta Branca, Isadora Salazar, Milton Hatoum, Thiago de Melo, Maric Kambeba, Monique Malcher não fazem falta à nossa diversidade? Oh Brasil que insiste em ser capenga, “Triste Bahia… Oh quão dessemelhante…”, dizia Gregório de Matos. Eu refaço: Triste Brasil, que só lembra da Amazônia na hora das profundas desgraças.

Salvo engano houve um processo de apagamento parcial da obra e da importância de Dalcídio Jurandir, no quadro da crítica e da historiografia literária. Os romances iniciais foram aqui e ali rebaixados, ora sob o argumento de barbarismo linguístico, ora sob o argumento de falta de habilidade na construção romanesca, ou ainda sob a acusação de que o autor tentava encaixar-se, sem conseguir, em certas recorrências da escrita moderna. Esta percepção foi desfeita posteriormente, mas o estrago permanece. Hoje se você perguntar a estudantes da pós-graduação em Letras da USP, poucos são os que conhecem a obra do autor. Na sua avaliação, como isso se deu e o que é necessário para reverter a injustiça?
Dalcídio era um bicho do mato, isto pode explicar parte do problema, mas não traduz toda a questão. Convicto do que fazia e de sua opção político-ideológica, o autor de Marajó não abria mão de seus princípios de ética e defesa intransigente dos oprimidos; ele era um homem de partido, obediente ao PC, até mesmo quando não concordava com as deliberações da executiva. Isto fez com que ele se tornasse um antipático, um enfezado (embora digam que ele era doce em certos momentos). Graciliano chegou mesmo a compará-lo a um camelo: resistente e teimoso. Isto gerou antipatias no meio intelectual.
Mas Dalcídio quase sempre foi mal editado. Em minha tese levantei, em Belém do Grão Pará, mais de 4.500 erros de digitação ou revisão. Os nichos de literatura sudestina (antes Rio, agora, São Paulo) sempre foram muito competitivos. Abrir espaço para mais gente do Norte para quê? Mas houve casos contrários, de gente do meio que abraçou o projeto de Dalcídio. O maior caso é o de Jorge Amado. Sei histórias de Jorge que me foram contadas por Zélia Gattai, coisas lindas, mas não dá para dizer aqui. Jorge era fã confesso de Dalcídio Jurandir. Em síntese: mal editado, mal distribuído, mal entendido. Resultado: ostracismo. Mas as cosias estão mudando, creio eu. O que me incomoda é a indiferença do governo do Pará e de suas diversas secretarias em bancar um projeto grandioso reunindo a reedição de Dalcídio por uma editora grande. Sugiro que a SECULT-PA procure a Boitempo.
Está em cartaz neste momento em São Paulo o espetáculo Solo de Marajó, do grupo Usina, de Belém. A montagem tem ótima repercussão de público e crítica. Esse deslocamento – inusual, aliás – de um trabalho teatral inspirado na obra de Dalcídio Jurandir, certamente ajuda o público e o leitor sudestinos a reconhecê-lo. Ainda que a obra teatral seja uma síntese, e autônoma, do romance (Marajó). O que você achou do espetáculo? Esse reconhecimento é uma necessidade só fora do Pará? Nós já o conhecemos na Amazônia?
Não o conhecemos devidamente. Estamos com um projeto de extensão, na Unama (Universidade da Amazônia), que está remexendo Dalcídio Jurandir, buscando novos públicos para ele. Primeiro foi o mergulho em Cachoeira do Arari. Em Março/Abril teremos ação em Ponta de Pedras, junho é a vez de Soure. Temos feito exposições, oficinas de leitura, caminhadas lúdicas que chamamos Trilhas do literário (parceria Unama e UFPa), caminhadas baseadas na Fisiognomia da Metrópole Moderna, de Willi Bolle, e no projeto Belém da Memória, da Unama.
Sobre Solo de Marajó, é espetáculo que já vi três vezes, e veria mais umas dez… Escrevi uma crônica leve depois da última vez que vi. Trata-se de um trabalho soberbo, uma das coisas que mais me impactou na vida. Olha que sou da geração que, na década de 80, viu em Belém trabalhos extraordinários de teatro. Mas o Solo… Ufa! Me deixa extasiado. Trabalho lindo: de ator, diretor, luz, marcação de cena, trabalho de voz. Toda vez que assisto ao espetáculo quero beijar as mãos do Alberto e do Cláudio. Ver Solo de Marajó ajuda a reler Marajó. Marajó, diga-se, é talvez a mais contundente narrativa do latifúndio da literatura brasileira. Os meninos o transformaram num teatro de sublevação emotiva. Tenho muito orgulho de vocês que fazem teatro no Pará. Por isto vos agradeço, agradeço também ao Dalcidio Jurandir, este quase-parente que não conheci pessoalmente.
*Paulo Nunes é professor e pesquisador do curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA – Universidade da Amazônia. Fez mestrado e doutorado voltados ao romance de Dalcídio Jurandir, respectivamente na UFPA e PUC-Minas. Hoje é curador do acervo Dalcídio Jurandir do Fórum Landi/Moronguetá (FAU e Centro de Memória da Amazônia da UFPA). Como pesquisador, integra também os quadros do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e participa, ainda, do projeto Epístolas Poéticas (em cooperação com o CUMA/Uepa) e Makunaíma, projeto criado no âmbito da UFPA.
* O livro “Dalcídio Jurandir: o reinventor do caroço de Tucumã” (IOEPA, 2022), pode ser adquirido no sitio eletrônico da editora PakaTatu, que entrega em casa em qualquer lugar do Brasil e de Portugal: https://www.editorapakatatu.com.br/